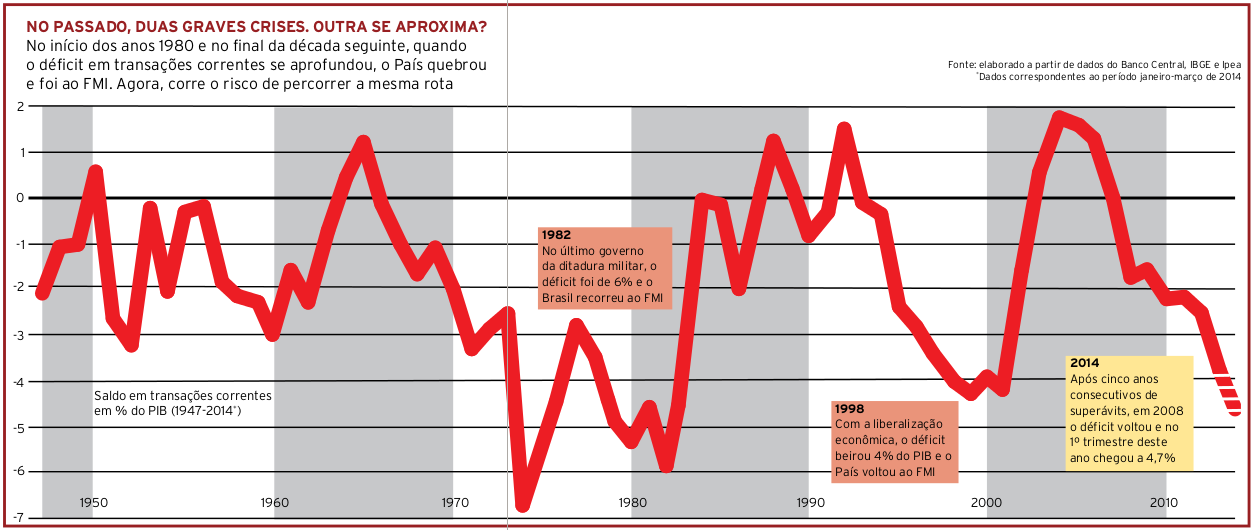PICICA: "Se projetos de reforma como o que tramita em Comissão do Senado forem levados adiante, pouquíssimos problemas de escrita que se encontram na escola e nas ruas serão solucionados. Simplesmente porque suas principais causas – a diversidade de pronúncias e as hipóteses dos escreventes – não podem ser controladas por lei."
LÍNGUA & LINGUAGEM
O verdadeiro problema ortográfico
Por Sírio Possenti em 29/07/2014 na edição 809
Reproduzido do Ciência Hoje On-Line, 25/7/2014
Em ’Ubaldo, Fidel e o lápis‘,
José de Souza Martins conta que João Ubaldo Ribeiro e ele tinham um
interesse comum: o uso popular de palavras ‘novas’, “que chegam às
pessoas comuns através da tevê, do rádio e da publicidade”. Informa que
Ubaldo tinha uma ‘besteiroteca’, que incluía exemplos como “Parabéns
grassa você é muito espessial”, “Deus potrêja esta casa”, “Vende-se
filhote de lavrador”, “Vende-se colchão altopédico”.
Primeira observação: uma das coisas que mais me espantam é que intelectuais de alto gabarito não tenham informações elementares sobre questões elementares de linguagem, que estão em qualquer manual que um calouro de letras pode ler (em verdadeiras faculdades de letras, não em colegiões).
Especialmente, me espanta que cacem basicamente erros de grafia e que não manifestem a menor capacidade de compreender o que se passa na cabeça de quem escreve errado. Só riem. Se levassem em conta, por exemplo, a escrita antiga (do tempo de Camões, digamos), imagino que sua avaliação mudaria completamente. Mas parece que nunca viram nenhum desses documentos, que só conhecem as atualizações. No máximo, lembram de ‘farmácia’ com ‘ph’...
Claro que se pode reagir humoristicamente aos exemplos citados (e a muitos semelhantes), que podem ser vistos nas ruas e, hoje, no Google, digitando placas do meu Brasil. Mas, além de provocar riso, esse material também pode ser visto como fonte de dados de extrema relevância para uma descrição mais acurada da nossa língua. Especialmente, já que a besteiroteca tem a ver basicamente com ortografia, uma análise desses materiais poderia iluminar debates sobre o tema.
Nova reforma?
Mal se implantam as regras do recente acordo ortográfico entre países lusófonos e já surge um movimento para fazer outra reforma, que simplificaria a ortografia. Ela seria mais uniforme (por exemplo, prescreve escrita uniforme para o fonema /s/, que sempre seria grafado com a letra ‘s’, o que resultaria em escritas como ‘sesta’ para as atuais ‘sexta’ / ‘cesta’ / ‘sesta’); e seriam eliminadas algumas “contradições” (‘estender’ e ‘extensão’, por exemplo).
Ora, qualquer análise da escrita popular e da produzida nos primeiros anos de escola mostra que os erros de grafia se dividem em diversos tipos: a) erros como escrever ‘casa’ e ‘exemplo’ com ‘z’, ‘caça’ com ‘ss’, ‘jeito’ com ‘g’ etc.; b) erros ligados a pronúncia variável (‘mininu’ (=menino), ‘curuja’ (=coruja), ‘anzou’ (=anzol), sem contar a famosa troca entre ‘mal’ e ‘mau’; c) juntar palavras separadas (‘serhumano’, com ou sem ‘h’) e separar palavras (‘ante posto’); d) acrescentar (‘apito’ = apto) ou tirar (‘habto’ = hábito) letras; e) eliminar ditongos (‘vassora’, ‘otro’, ‘pexe’) ou criá-los (‘professoura’, ‘bandeija’) etc.
Ou seja: uniformizar a grafia com base em análise fonológica não resolve o problema que se pretende resolver, porque se parte de duas hipóteses sem nenhum fundamento: a) que todos os falantes adotam a mesma pronúncia; b) que o único problema é a relação letra/fonema. Ora, como os poucos exemplos mostram, os problemas são mais numerosos e nenhuma reforma pode resolvê-los.
Saídas para uma escrita melhor
Os exemplos de João Ubaldo revelam alguns aspectos mais complexos. Se ‘espessial’ assinala um problema desses que qualquer um consegue mencionar, nem toca no problema que surge na escrita de palavras menos conhecidas.
O exame de casos mostra que uma das soluções do escrevente é associá-las a palavra conhecidas, como no caso de ‘altopédico’, mais ou menos misteriosamente associado a ‘ortopédico’, um provável exemplo de etimologia popular: sendo ‘orto’ uma forma desconhecida, é associado a ‘alto’, forma conhecida. Pela mesma razão, escreve-se ‘lavrador’ por ‘labrador’.
Mesmo uma fonologia elementar, ‘aplicada’ à escrita, tem excelentes explicações para grafias como ‘malmita’, ‘agricula’, ‘chapiação’, ‘conzinheiro’, ‘viaigi’, ‘almusar’ (para o ‘u’, no caso), ‘afiace’ (afia-se), ‘dilícia’, ‘difisiu’ (difícil).
O que têm em comum todos esses casos, citados em O português popular escrito, de Edith Pimentel Pinto, é que não seriam atingidos por uma reforma que simplificasse a ortografia, porque sua origem não é a grafia legal diversa para o mesmo fonema nem uma pequena contradição local.
O que origina essas grafias é uma hipótese elaborada por um escrevente com pouca escolaridade e, consequentemente, com pouca familiaridade com a escrita. O que indica a única saída para uma escrita melhor, desse ponto de vista: escola melhor e maior contato com a escrita.
Quem tem acesso a uma boa escola e escreve regularmente não tem problemas (graves, pelo menos) de grafia. Nem no Brasil, nem na França ou Inglaterra, países em que se falam línguas cuja escrita está bem longe da fala.
Se projetos de reforma como o que tramita em Comissão do Senado forem levados adiante, pouquíssimos problemas de escrita que se encontram na escola e nas ruas serão solucionados. Simplesmente porque suas principais causas – a diversidade de pronúncias e as hipóteses dos escreventes – não podem ser controladas por lei.
Se a solução é óbvia, os caminhos para chegar a ela são conhecidos dos especialistas. Mas, infelizmente, são completamente desconhecidos não só pela ‘sociedade’, mas mesmo por representantes das letras de alto gabarito (e por senadores supostamente menos iletrados), como o revela a besteiroteca mencionada anteriormente.
***
Fonte: Observatório da Imprensa
Primeira observação: uma das coisas que mais me espantam é que intelectuais de alto gabarito não tenham informações elementares sobre questões elementares de linguagem, que estão em qualquer manual que um calouro de letras pode ler (em verdadeiras faculdades de letras, não em colegiões).
Especialmente, me espanta que cacem basicamente erros de grafia e que não manifestem a menor capacidade de compreender o que se passa na cabeça de quem escreve errado. Só riem. Se levassem em conta, por exemplo, a escrita antiga (do tempo de Camões, digamos), imagino que sua avaliação mudaria completamente. Mas parece que nunca viram nenhum desses documentos, que só conhecem as atualizações. No máximo, lembram de ‘farmácia’ com ‘ph’...
Claro que se pode reagir humoristicamente aos exemplos citados (e a muitos semelhantes), que podem ser vistos nas ruas e, hoje, no Google, digitando placas do meu Brasil. Mas, além de provocar riso, esse material também pode ser visto como fonte de dados de extrema relevância para uma descrição mais acurada da nossa língua. Especialmente, já que a besteiroteca tem a ver basicamente com ortografia, uma análise desses materiais poderia iluminar debates sobre o tema.
Nova reforma?
Mal se implantam as regras do recente acordo ortográfico entre países lusófonos e já surge um movimento para fazer outra reforma, que simplificaria a ortografia. Ela seria mais uniforme (por exemplo, prescreve escrita uniforme para o fonema /s/, que sempre seria grafado com a letra ‘s’, o que resultaria em escritas como ‘sesta’ para as atuais ‘sexta’ / ‘cesta’ / ‘sesta’); e seriam eliminadas algumas “contradições” (‘estender’ e ‘extensão’, por exemplo).
Ora, qualquer análise da escrita popular e da produzida nos primeiros anos de escola mostra que os erros de grafia se dividem em diversos tipos: a) erros como escrever ‘casa’ e ‘exemplo’ com ‘z’, ‘caça’ com ‘ss’, ‘jeito’ com ‘g’ etc.; b) erros ligados a pronúncia variável (‘mininu’ (=menino), ‘curuja’ (=coruja), ‘anzou’ (=anzol), sem contar a famosa troca entre ‘mal’ e ‘mau’; c) juntar palavras separadas (‘serhumano’, com ou sem ‘h’) e separar palavras (‘ante posto’); d) acrescentar (‘apito’ = apto) ou tirar (‘habto’ = hábito) letras; e) eliminar ditongos (‘vassora’, ‘otro’, ‘pexe’) ou criá-los (‘professoura’, ‘bandeija’) etc.
Ou seja: uniformizar a grafia com base em análise fonológica não resolve o problema que se pretende resolver, porque se parte de duas hipóteses sem nenhum fundamento: a) que todos os falantes adotam a mesma pronúncia; b) que o único problema é a relação letra/fonema. Ora, como os poucos exemplos mostram, os problemas são mais numerosos e nenhuma reforma pode resolvê-los.
Saídas para uma escrita melhor
Os exemplos de João Ubaldo revelam alguns aspectos mais complexos. Se ‘espessial’ assinala um problema desses que qualquer um consegue mencionar, nem toca no problema que surge na escrita de palavras menos conhecidas.
O exame de casos mostra que uma das soluções do escrevente é associá-las a palavra conhecidas, como no caso de ‘altopédico’, mais ou menos misteriosamente associado a ‘ortopédico’, um provável exemplo de etimologia popular: sendo ‘orto’ uma forma desconhecida, é associado a ‘alto’, forma conhecida. Pela mesma razão, escreve-se ‘lavrador’ por ‘labrador’.
Mesmo uma fonologia elementar, ‘aplicada’ à escrita, tem excelentes explicações para grafias como ‘malmita’, ‘agricula’, ‘chapiação’, ‘conzinheiro’, ‘viaigi’, ‘almusar’ (para o ‘u’, no caso), ‘afiace’ (afia-se), ‘dilícia’, ‘difisiu’ (difícil).
O que têm em comum todos esses casos, citados em O português popular escrito, de Edith Pimentel Pinto, é que não seriam atingidos por uma reforma que simplificasse a ortografia, porque sua origem não é a grafia legal diversa para o mesmo fonema nem uma pequena contradição local.
O que origina essas grafias é uma hipótese elaborada por um escrevente com pouca escolaridade e, consequentemente, com pouca familiaridade com a escrita. O que indica a única saída para uma escrita melhor, desse ponto de vista: escola melhor e maior contato com a escrita.
Quem tem acesso a uma boa escola e escreve regularmente não tem problemas (graves, pelo menos) de grafia. Nem no Brasil, nem na França ou Inglaterra, países em que se falam línguas cuja escrita está bem longe da fala.
Se projetos de reforma como o que tramita em Comissão do Senado forem levados adiante, pouquíssimos problemas de escrita que se encontram na escola e nas ruas serão solucionados. Simplesmente porque suas principais causas – a diversidade de pronúncias e as hipóteses dos escreventes – não podem ser controladas por lei.
Se a solução é óbvia, os caminhos para chegar a ela são conhecidos dos especialistas. Mas, infelizmente, são completamente desconhecidos não só pela ‘sociedade’, mas mesmo por representantes das letras de alto gabarito (e por senadores supostamente menos iletrados), como o revela a besteiroteca mencionada anteriormente.
***
Sírio Possenti é professor do Departamento de Linguística da Universidade Estadual de Campinas
Fonte: Observatório da Imprensa