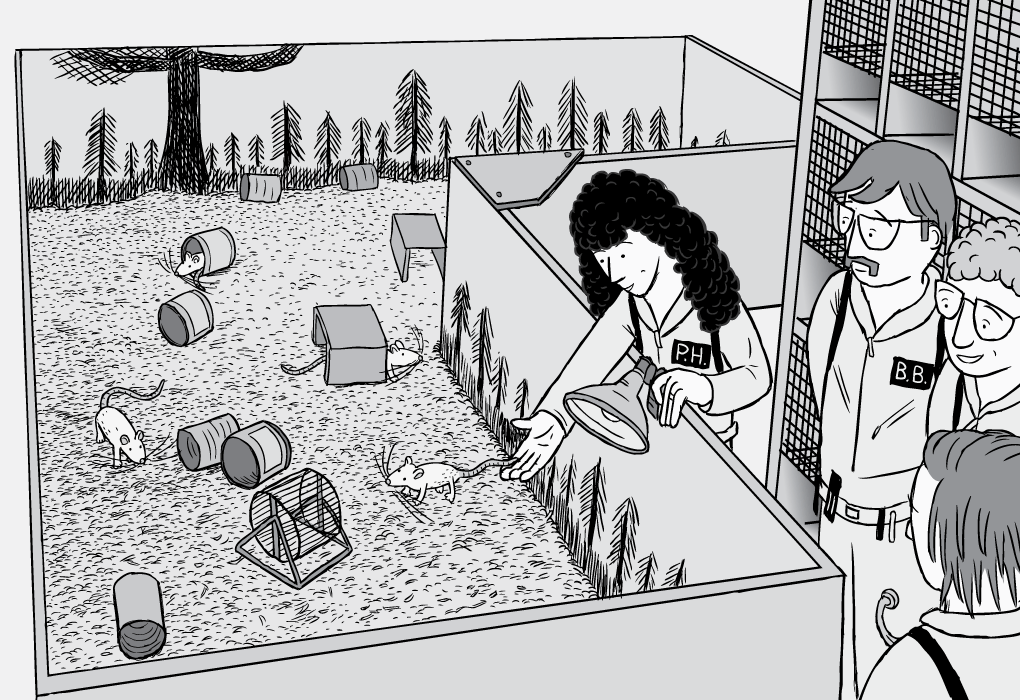PICICA: "As obras das grandes hidrelétricas nos principais rios amazônicos,
iniciadas no governo do PT, a partir de 2003, caminharam
silenciosamente, na sombra dos escândalos midiáticos.
Mesmo temas como o aumento do desmatamento na Amazônia, a imposição
de projetos hidrelétricos na bacia do rio Tapajós, a discussão da PEC
215, que quer dar ao Congresso a atribuição de decidir as demarcações de
terras indígenas, a luta do povo Munduruku para auto-demarcar a terra
Sawré Muybu, a queda de braço entre o Ministério Público Federal e o
judiciário nas ações que apontam as irregularidades nos licenciamentos
das hidrelétricas, o uso da Suspensão de Segurança (instituto da
ditadura), não ganharam a sociedade. Não ganharam as ruas e nem os
corações dos brasileiros."
| De 2003 a 2014: as hidrelétricas de Lula e Dilma |  |
 |
| Escrito por Telma Monteiro |
| Sexta, 19 de Dezembro de 2014 |
|
Um ano conturbado esse 2014. Vai ficar como mais um capítulo da história dos governos Lula e Dilma Rousseff, pautados pela corrupção. Corrupção, também, que pode estar entranhada no setor elétrico. A sanha de construir hidrelétricas nos rios amazônicos com a coparticipação das mesmas empreiteiras envolvidas no esquema de propinas da Petrobras, como mostra a Operação Lava Jato, é sinal inequívoco de metástase. Busquei escrever uma retrospectiva resumida dos processos das grandes hidrelétricas em construção nos rios amazônicos, nos últimos doze anos. É preciso expurgar a Eletrobras também. Mensalão, julgamento, condenação e prisão de autoridades do governo, campanhas eleitorais que envergonharam os eleitores, presidentes e vice-presidentes de grandes empreiteiras e diretores da Petrobras indiciados marcaram o Brasil nos últimos doze meses. Nada mais que um resumo do que temos assistido nos últimos doze anos. As obras das grandes hidrelétricas nos principais rios amazônicos, iniciadas no governo do PT, a partir de 2003, caminharam silenciosamente, na sombra dos escândalos midiáticos. Mesmo temas como o aumento do desmatamento na Amazônia, a imposição de projetos hidrelétricos na bacia do rio Tapajós, a discussão da PEC 215, que quer dar ao Congresso a atribuição de decidir as demarcações de terras indígenas, a luta do povo Munduruku para auto-demarcar a terra Sawré Muybu, a queda de braço entre o Ministério Público Federal e o judiciário nas ações que apontam as irregularidades nos licenciamentos das hidrelétricas, o uso da Suspensão de Segurança (instituto da ditadura), não ganharam a sociedade. Não ganharam as ruas e nem os corações dos brasileiros. O Novo Modelo Institucional de Energia (Lei nº 10847/10848 de 2004) foi concebido por Dilma Rousseff a partir de 2003, como ministra de Minas e Energia (MME). Lula e Dilma não perderam tempo. A galinha dos ovos de ouro do PT passou a ser o setor energético, que ficou nas mãos do seu principal aliado, o PMDB, sob a batuta de José Sarney. O Ministério das Minas e Energia (MME), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE) ficaram com Edison Lobão, Márcio Zimmermann e Maurício Tolmasquim, respectivamente. Elas formam, há doze anos, uma espécie troika institucional indevassável e inacessível. A construção das usinas incluídas no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) tem como objetivo satisfazer a volúpia por grandes obras do cartel de empreiteiras, maiores doadoras das campanhas de Lula e Dilma. Paralelamente, o aumento do consumo de energia na região Norte, devido à instalação de novas plantas eletro-intensivas ligadas à mineração, deu ao governo federal mais uma desculpa para aprovar mais hidrelétricas. Esse consumo, segundo dados que constam no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da usina hidrelétrica (UHE) Teles Pires, cresceu de 6,3% para 8,6%. Para completar esta introdução, relembro que o Plano Nacional de Energia (PNE) 2030 prevê o incremento de mais 88 mil MW (megawatts) de geração com hidrelétricas e de apenas quatro mil MW em geração eólica para os próximos 25 anos. Esses 88 mil MW equivalem a 20 usinas como a UHE Belo Monte ou 93 como a UHE Teles Pires. Um ofício de 21 fevereiro de 2011, assinado por Amílcar Guerreiro, diretor da EPE, para a Funai, ressalta que, de 48 projetos hidrelétricos, 18 atingem áreas de Terras Indígenas (TI). Afirma que 16 projetos, embora não estejam diretamente em TIs, estão a menos de 50 quilômetros delas, como a UHE São Manoel e a UHE Foz do Apiacás. Ainda confirma que os projetos hidrelétricos no PAC 2 somam 80% com algum grau de interferência com TI. Parece uma promessa de que vai piorar. Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau – rio Madeira Com Lula já eleito, no final de 2002, a Odebrecht conseguiu aprovar os estudos de viabilidade das usinas do Madeira em velocidade de trem-bala. No início de 2003, a construção do então chamado Complexo do Madeira já era comemorada na Aneel.  Dilma Rousseff era a ministra de Minas e Energia de Lula. Os dois juntos meteram os pés nas portas da Amazônia, escancarando-as, ao defender a imprescindibilidade das usinas do Madeira. Começava aí a era do estupro dos rios amazônicos. De 2003 até 2014, as hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, não saíram da pauta da mídia. Quando obtiveram a Licença Prévia (LP), em julho de 2007, contaram com a ajuda da diretoria do Ibama e, talvez, da ingenuidade e arrogância (imperdoáveis) da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Contrariando a decisão da equipe técnica do próprio Ibama, que concluiu pela inviabilidade dos empreendimentos, a LP foi concedida. O processo das usinas do Madeira chegou a surpreender. Uma só licença prévia para duas hidrelétricas foi um fato inédito. O primeiro leilão, da UHE Santo Antônio, em dezembro de 2007, foi arrematado pela dobradinha Furnas e Odebrecht. Cartas marcadas. Afinal, a concepção e os estudos preliminares foram elaborados pela Odebrecht, lá nos idos de 2002. O segundo leilão, da UHE Jirau, trouxe a grande surpresa. Com um deságio maior, a concorrência tirou a UHE Jirau das mãos da dupla Furnas e Odebrecht. A Camargo Corrêa e a GDF Suez entraram para vencer o lobby de Furnas e Odebrecht, que até então dava como favas contadas o arremate dos dois empreendimentos. Economia de escala. Dois leilões, dois ganhadores, duas das maiores empreiteiras do Brasil e o Ibama concedeu duas Licenças de Instalação (LI) para uma só LP. A partir daí começou uma verdadeira avalanche de irregularidades: violações dos direitos humanos, alijamento dos povos indígenas do processo de licenciamento, descumprimento da Convenção 169 da OIT e falta de consulta prévia. O consórcio vencedor de Jirau decidiu, então, alterar a localização da usina no rio Madeira. Outro fato inédito.  Os dois consórcios vencedores passaram a se digladiar. Vieram as greves nos canteiros das duas obras, denúncias de trabalho semiescravo, ações na justiça ajuizadas pelos ministérios públicos, a destruição da margem direita a jusante da barragem da UHE Santo Antônio, que levou consigo o bairro Triângulo, a alteração da cota do reservatório de Santo Antônio, que resultou no aumento da área alagada. Para coroar tanta insensatez, aconteceu a maior cheia da história do rio Madeira, agravada pelas hidrelétricas, que quase fez desaparecer Porto Velho, no início de 2014. Custo atualizado da UHE Santo Antônio: R$ 19,5 bilhões – Construtora: Odebrecht; custo atualizado da UHE Jirau: R$ 18 bilhões – Construtora: Camargo Corrêa Hidrelétrica Belo Monte – rio Xingu Não precisou muito tempo para o retorno do espectro do monstro chamado Belo Monte, no rio Xingu. Esse sim, o pesadelo em forma de hidrelétrica. Quem pensou que as usinas do Madeira eram o pior se enganou. Começou uma sensação de déjà vu. A Eletrobras desengavetou o projeto no rio Xingu. Enfiar Belo Monte goela abaixo da sociedade foi num átimo. Afinal, a desculpa do governo tem sido a de que estamos na iminência de outro apagão igual ao de 2001. Ou se construiria Belo Monte ou o Brasil pararia! Mensagem subliminar que funcionou.  Lula em plena campanha, em 2002, num documento chamado O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento do Brasil, condenou a construção de mega-obras de hidrelétricas na Amazônia. Citou Belo Monte. Enquanto se dava o processo de licenciamento das usinas do Madeira, em 2006, Belo Monte emergia das cinzas dos anos 1980, numa nova versão. A sociedade civil assistia atônita a mais uma surpresinha do governo petista. O projeto defendido pela Eletrobras, com total apoio de Lula e Dilma, está desviando as águas do rio Xingu. Uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta, a Volta Grande do Xingu vai secar. E Belo Monte, em construção, só vai gerar um terço da energia que sua estrutura de R$ 30 bilhões comportaria. Em 2007, as empreiteiras Camargo Corrêa, Odebrecht e Andrade Gutierrez surgem para elaborar os estudos de Belo Monte. Odebrecht e Camargo Corrêa, mais uma vez, no centro do plano de construir mais hidrelétricas na Amazônia. Entre avanços e recuos do processo de licenciamento, ações do MP, novas audiências públicas e adiamentos do leilão, em fevereiro de 2010, o Ibama concedeu a LP e em abril o leilão foi consumado. Restou selada a destruição do Volta Grande do Xingu. O leilão de Belo Monte foi um equívoco. Estava inicialmente prevista a participação de três grandes empreiteiras: Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez. As mesmas que estão envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. As três foram as responsáveis, junto com a Eletrobras, pela elaboração de todos os estudos de Belo Monte. As empreiteiras Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez formaram um consórcio que constrói Belo Monte. Afinal, fazer a obra sem a responsabilidade dos custos ambientais e sociais, e sem o ônus das batalhas na justiça, é muito mais rentável. Mamata. Em 2010, Lula e o PT se preparavam para eleger Dilma Rousseff presidente da República. A construção da UHE Belo Monte tem consolidado os mesmos problemas do caos que se instalou em Porto Velho com as usinas do Madeira. A história se repetiu e recrudesceu o movimento indígena contra as usinas nos rios amazônicos. Atores e diretores de Hollywood, denúncias na OEA e ONU, protestos nas capitais da Europa, protestos indígenas em Brasília, greves nos canteiros de obras, destruição ambiental, prejuízos. Nada disso demoveu o governo do PT. Belo Monte está lá, fantasmagórica com seus esqueletos de concreto, com umas poucas castanheiras gigantes poupadas no desmatamento do sítio Pimental. A construção de Belo Monte está destruindo a vida e a natureza. Pescadores, povos indígenas, populações ribeirinhas, pequenos agricultores, floresta e rio sagrado. As engrenagens da justiça estão lentas para salvar o Xingu. Uma ferrugem sórdida as emperra. Custo atualizado da UHE Belo Monte: R$ 25,9 bilhões – Consórcio Construtor: Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez Hidrelétrica Teles Pires – rio Teles Pires O aproveitamento hidrelétrico do rio Teles Pires está nos planos governamentais desde os anos 1980, quando foi feito o inventário da bacia hidrográfica. Do projeto inicial, que permaneceu esquecido até 2001, já constavam outros seis aproveitamentos hidrelétricos. Mas foi sob o governo do PT que o projeto emplacou. Em 2005, um consórcio formado pelas empresas estatais Eletrobras, Furnas e Eletronorte resolveu desengavetá-lo e manter os planos para as seis hidrelétricas. O rio Teles Pires tão ameaçado não teve sequer estudos dos impactos sinérgicos e cumulativos da região. O Ibama iniciou o processo de licenciamento em 2010.  A hidrelétrica Teles Pires já está afetando duramente a região situada no trecho onde começa uma sequência de cachoeiras chamadas Sete Quedas, no baixo curso do rio Teles Pires. A hidrelétrica, em construção, está na divisa entre dois grandes municípios em dois estados: Jacareacanga, no Pará, e Paranaíta, no Mato Grosso. As empresas Neoenergia (50,1%), Eletrosul (24,5%), Furnas (24,5%) e Odebrecht (0,9%) formam o consórcio vencedor do leilão. A UHE Teles Pires não ultrapassará 50 anos de vida útil, se for levado em conta o agravamento das características hidrológicas da região. As mudanças climáticas, os períodos cada vez mais intensos de regimes de cheias e vazantes, o aumento do aporte de sedimentos devido à ocupação a montante (rio acima em direção às nascentes),poderiam reduzir ainda mais o tempo de geração comercial. Esse projeto anacrônico se transformará, em menos de cinquenta anos, num fóssil jovem em meio a um deserto induzido no coração da Amazônia. Sob o governo do PT se deu a Rio+20. Os impactos da hidrelétrica afetarão as terras indígenas Kayabi e duas Unidades de Conservação - a Reserva Estadual de pesca Esportiva, no Pará, e o Parque Estadual do Cristalino, em Mato Grosso.  No município de Jacareacanga (PA), 59% são terras indígenas. A área rural afetada pela usina Teles Pires tem 66 mil quilômetros quadrados, 20 mil habitantes, é de difícil acesso, de vegetação nativa e é ocupada por terras indígenas. O sistema de transmissão da energia desse complexo hidrelétrico está previsto para ter cerca de mil quilômetros e um corredor de 20 quilômetros de largura. Custo atualizado da UHE Teles Pires: R$ 4 bilhões – Construtora: Odebrecht Hidrelétrica São Manoel – rio Teles Pires As TI Kayabi e TI Munduruku, mais a jusante, já sofrem os impactos da construção das usinas no rio Teles Pires. A UHE Teles Pires e a UHE São Manoel, também em construção, estão afetando 16 importantes sítios arqueológicos. Vinte quilômetros separam a UHE Teles Pires da UHE São Manoel. O processo de licenciamento da UHE São Manoel começou em 2007. Já datam dessa época as falhas gritantes nos estudos ambientais e no Estudo do Componente Indígena (ECI). No parecer técnico do Ibama, de 2010, foram apontadas 33 pendências. O EIA/RIMA foi rejeitado pela equipe técnica do Ibama, uma vez que ele não atendia ao Termo de Referência.  O processo de licenciamento da UHE São Manoel ficou praticamente parado até abril de 2013. O Ibama marcou as audiências públicas para setembro de 2013. O leilão de compra de energia elétrica foi realizado em dezembro de 2013 e o vencedor foi o Consórcio formado pelas empresas EDP Energias do Brasil (66,67%) e Furnas Centrais Elétricas (33,33%), que constituíram a sociedade de propósito específico denominada Empresa de Energia São Manoel S.A. Em 2014, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, assinou o Contrato de Concessão para exploração do potencial hidrelétrico da UHE São Manoel, localizada no rio Teles Pires, município de Jacareacanga, estado do Pará. Até outubro deste ano, o Ministério Público Federal havia ajuizado sete ações contra a construção da UHE São Manoel. Todas apontam irregularidades no processo de licenciamento. A LP foi concedida pelo Ibama em novembro de 2013 e a LI em agosto de 2014. As obras já começaram. A destruição do rio faz chorar. Custo atualizado da UHE São Manoel: R$ 3 bilhões – Construtora: Consórcio Constran-UTC. Hidrelétrica São Luiz do Tapajós – rio Tapajós Em processo de elaboração dos estudos ambientais. Ficou para o próximo mandato de Dilma Rousseff. O leilão está marcado para o segundo semestre de 2015. O rio já está condenado?  Telma Monteiro é ativista socioambiental, pesquisadora, editora do blog http://www.telmadmonteiro.blogspot.com.br, especializado em projetos infraestruturais na Amazônia. É também pedagoga e publica há anos artigos críticos ao modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil |