PICICA: "Dorvalino,
Marçal, Nízio e Arnaldo são alguns dos indígenas e fazendeiros que
perderam a vida em uma centenária disputa por um dos solos mais férteis do Brasil."

Dorvalino, Marçal, Nízio e Arnaldo são alguns dos indígenas e fazendeiros que perderam a vida em uma centenária disputa por um dos solos mais férteis do Brasil.
Enquanto
essa batalha (turbinada por decisões políticas) não se resolve,
proprietários contrataram seguranças particulares para proteger as
terras de invasões indígenas — uma nova onda de mortes agora ligadas a
um CNPJ.
Matéria, fotos e tradução Carla Ruas | Editor Fronteira
Design Marcelo Armesto
Design Marcelo Armesto

Na véspera do Natal de 2005,
Dorvalino Rocha, indígena da etnia Guarani-Kaiowá, estava caminhando em
uma estrada de chão batido no interior da fazenda Fronteira, no Mato
Grosso do Sul. Ele estava indo colher mandioca para o almoço da família.
De repente, avistou um carro vindo em sua direção. E logo reconheceu o
motorista, parte de um grupo de seguranças particulares que trabalhava
na fazenda. A equipe havia sido contratada semanas antes para,
justamente, impedir que indígenas circulassem dentro da propriedade
particular.
O carro parou.
Dorvalino
não estava apenas passando pelo local. Fazia muitos anos que a sua
tribo, a Nhanderu Marangatu, ocupava a fazenda por períodos alternados,
construindo cabanas, plantando alimentos e caçando pequenos animais. O
grupo tinha esperança que as ocupações acelerassem o processo de
demarcação da fazenda como terra indígena, já que, segundo eles, aquele
terreno na verdade pertencia aos seus ancestrais.
Quatro
seguranças saíram do veículo. Todos armados, de acordo com testemunhas.
Em seguida, o motorista, João Carlos Gimenes Brites, 38 anos, atirou
duas vezes na direção de Dorvalino, sem dizer uma palavra. Uma bala
atingiu o seu pé direito. A outra se alojou dentro do seu peito. Sem
forças, ele caiu no chão.
Diversos
indígenas correram para ver o que havia ocorrido. Alguém foi chamar a
sua mulher. Quando ela chegou, Dorvalino pediu para ela pegar a sua
carteira de identidade — prevendo o pior cenário, ele não queria ser
confundido com um indigente. Enquanto isso, um amigo chamou uma
ambulância. Mas, quando Dorvalino chegou no hospital, já era tarde.
“Eles
mataram sem dó”, disse Bernardino Sarate, 40 anos, amigo da vítima,
enquanto reencenava o crime no exato local onde aconteceu, na estrada de
acesso da fazenda Fronteira.
Ao
ser questionado sobre o crime, o atirador contou outra versão para a
polícia. Disse que o seu carro havia sido repentinamente cercado por
indígenas agressivos, armados com flechas, facas e pedras. E que atirou
no chão para espantar o grupo, atingindo Dorvalino sem querer. Mas no
fim de um longo inquérito policial, os investigadores concluíram que
Brites havia, sim, cometido homicídio doloso. Ou seja, que teve a
intenção de matar.


A caminho do local
onde Dorvalino foi morto, aproveitei para observar os arredores da
janela do carro. Havia poucos veículos na estrada de faixa única. Mas
diversos caminhões trafegavam lentamente, com as caçambas cheias de
grãos. Dos dois lados da estrada vi um mar verde com ondas
aveludadas — que, na verdade, eram centenas de quilômetros de plantações
de soja, com pequenos resquícios de Mata Atlântica. Por baixo da
vegetação, havia um solo avermelhado, extremamente fértil, típico do
centro-oeste brasileiro.
O
cenário ilustra bem os números de produção agrícola do Brasil. O país é o
segundo maior produtor de soja do mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos. E chega a movimentar 31 bilhões de dólares por ano ao exportar o
produto para países como a China, segundo dados do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As fazendas do Mato Grosso
do Sul também exibem outras culturas extremamente lucrativas, como
cana-de-açúcar, eucalipto e milho.
Não é à toa que a terra seja intensamente disputada nesta região.
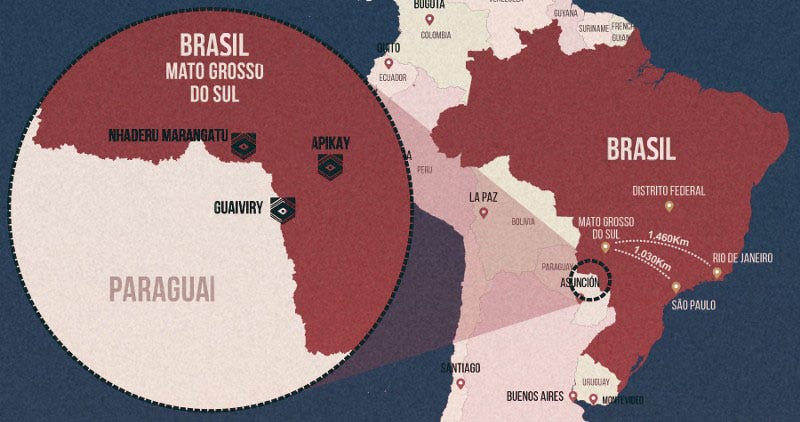
Entre
2003 e 2013, um total de 616 indígenas foram assassinados no
Brasil — uma média de 56 vítimas por ano, de acordo com o Conselho
Indigenista Missionário (Cimi). O número representa uma taxa de
homicídio anual de 6 por 100 mil habitantes, segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU). É uma pequena parcela da taxa brasileira de 25 por
100 mil habitantes, mas ainda assim maior do que países inteiros, como
Estados Unidos, Argentina e Chile.
A
maior parte das mortes violentas, 56%, aconteceu aqui mesmo no Mato
Grosso do Sul. O estado tem 77 mil índios, a segunda maior população
brasileira de indígenas, atrás do Amazonas. Mas eles só têm direito de
ocupar 1,6% do território estadual. Enquanto isso, no Amazonas, por
exemplo, um pouco mais do dobro de indígenas têm acesso a 21,7% daquele
território, apontam dados da Fundação Nacional do índio (Funai).
Os
homicídios, que raramente saem nas capas dos jornais, parecem estar
relacionados com um problema em comum: a luta pela terra. Assim como
Rocha, muitos indígenas morreram em confrontos com fazendeiros (ou seus
funcionários) depois que suas tribos invadiram propriedades privadas. Em
outros casos, a busca constante por um pedaço de terra levou ao uso
abusivo de álcool e drogas nas aldeias, o que por sua vez elevou índices
de criminalidade e violência entre indígenas. Sem contar a taxa de
suicídios, seis vezes maior do que a taxa nacional.
“O
número de mortes de indígenas nos dias de hoje é consequência da terra
ter sido negada para eles por décadas e décadas. É só olhar para os
lugares onde eles têm bastante terra — onde tem um lugar para viver,
plantar e fazer seus rituais. Nestes locais não tem suicídios e nem
homicídios”, afirmou Flávio Vicente Machado, diretor regional do Cimi no
Mato Grosso do Sul.
O
número de homicídios seria ainda maior caso as estatísticas incluíssem
os frequentes atropelamentos que ocorrem próximos das aldeias,
geralmente registrados como acidentes de trânsito. Líderes indígenas
como Damiana Lopes, 79 anos, acreditam que os motoristas agem de
propósito, por causa da crescente tensão entre índios e não-índios na
região. A suspeita tem como base a sua própria história: a sua tribo,
Apikay, da etnia Guarani-Kaiowá, já perdeu oito integrantes por
atropelamento nos últimos 10 anos
A
aldeia, acampada em uma fazenda na estrada BR-463, perto de Dourados,
reivindica o local como sua terra ancestral. Não é possível ver suas
casas da estrada, feitas de madeira com telhados de palha, mas os
indígenas costumam caminhar na via pública, na direção de um mercado
próximo. Neste trecho que muitos perderam as suas vidas
“A
gente é alvo dos carros grandes que passam na estrada”, afirmou
Damiana, enquanto a gente conversava no meio da sua aldeia, sob um sol
escaldante. A líder, já idosa, tem estatura pequena, mas aparenta ser
forte para a sua idade. Ela vestia camiseta preta, calça jeans e
chinelo. Na sua cabeça usava um cocar vermelho e rosa.

Em
seguida, Damiana apontou para uma cicatriz grossa nas costas do seu
filho, Nivaldo Lopes, 43, como um exemplo da tragédia que a sua tribo
vivencia. Ele foi atropelado por uma caminhonete em 1994, mas
sobreviveu. O filho de Nivaldo, Gabriel, no entanto, foi atropelado e
morreu no ano passado. “Ele tinha apenas 4 anos de idade”, lamentou
Damiana.
Mãe e filho me
levaram para ver o local em que Gabriel está enterrado, ao lado das
outras vítimas, no fundo do terreno que ocupam ilegalmente. No caminho
fizeram uma dança em homenagem aos mortos, enquanto cantavam uma música
indígena em guarani e sacodiam chocalhos com as mãos. Um ritmo
melancólico.


Há 120 anos,
as comunidades indígenas desta região ainda viviam em paz e com algum
grau de isolamento. Diversas tribos ocupavam o interior da Mata
Atlântica, que na época se estendia do litoral sul brasileiro até o Mato
Grosso do Sul. E ainda que os portugueses estivessem no Brasil desde
1500, “este grupo tinha escolhido ficar longe das cidades para preservar
o seu estilo de vida”, afirmou o antropólogo Levi Marques Pereira,
professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
Mas,
após a Guerra do Paraguai, em 1870, o cenário começou a mudar. O
governo brasileiro concedeu ao empresário Thomaz Larangeira o direito de
extrair erva-mate na região, com o objetivo de reforçar as fronteiras
do país. E ele logo contratou os indígenas como funcionários, que
conheciam a floresta como ninguém. “Foi o primeiro contato de muitas
tribos com a economia não-indígena. Eles eram empregados em um sistema
semi-escravista, no qual tinham que trabalhar por semanas ou meses sem
ter folga e estavam sempre devendo para o patrão”, disse.

Quando
a erva-mate foi completamente extraída da região, por volta de 1930, os
fazendeiros chegaram. Centenas de famílias vieram de todo o Brasil para
trabalhar no solo extremamente produtivo do Mato Grosso do Sul.
Consequentemente, a floresta foi destruída aos poucos para dar lugar ao
gado e às diferentes culturas. E os indígenas foram forçados — muitas
vezes de forma violenta — a se mudarem para oito reservas construídas no
estado.
“Nas
reservas, eles eram tratados como se estivessem num campo de
concentração. Eles não podiam sair, a não ser para trabalhar em fazendas
próximas. O sistema político tribal era ignorado, e eles tinham que
seguir um sistema militar não-indígena. E, em um dos maiores
desrespeitos com a cultura indígena, eram forçados a aprender a cultura
do branco para, supostamente, se tornarem mais civilizados”, disse
Pereira.
Enquanto isso, o
governo estadual começou a dar os terrenos que os indígenas
ocupavam — junto com documentos de posse — para os novos fazendeiros.
Uma decisão que até hoje está no centro da disputa de terras no país.
Sentindo-se injustiçados, indígenas começaram a se mobilizar para pedir de volta as suas terras ancestrais — ou tekohas em Guarani. Na
década de 1960, o movimento ganhou força com o surgimento de um líder
indígena pequeno, que não tinha os dentes da frente, chamado Marçal de
Souza. Ele era a pessoa certa para assumir a liderança do movimento, já
que tinha vivido na pele as dificuldades de viver nas reservas indígenas
da região.
Quando ainda era
criança, Marçal viu os pais morrerem de doença dentro de uma reserva em
Caarapó, no sul do Mato Grosso do Sul, possivelmente por não receberem
assistência médica adequada. Mais tarde, acabou sendo criado por uma
família religiosa não-indígena. Quando virou adulto, resolveu voltar
para as reservas do estado para atuar como líder religioso e auxiliar de
enfermagem.
Em seguida, começou a falar publicamente contra a expropriação de tekohas,
a exploração ilegal de madeira, e a escravização indígena. Nas décadas
seguintes, discursou internacionalmente sobre estes assuntos, tanto na
América Latina quanto nos Estados Unidos e até para o papa João Paulo
II, para quem disse: “Nossas terras são invadidas, nossas terras são
tomadas, os nossos territórios são diminuídos, e não temos mais
condições de sobrevivência”, disse Marçal segundo o seu biógrafo
Benedito Prezia.
Em 1980, o
líder resolveu colocar o seu discurso em prática. Ele se juntou a uma
tribo que estava acampada próximo da fronteira com o Paraguai. Eles
acreditavam que a sua tekoha estava localizada bem no meio de uma fazenda naquele local. Uma fazenda chamada Fronteira.

Muito
antes de Dorvalino Rocha ter tido um encontro fatal com um segurança
neste mesmo terreno, Marçal começou a receber ameaças de morte. Ele
chegou a dizer, segundo Prezia: “Eu sou uma pessoa marcada para morrer.
Mas por uma causa justa a gente morre. Alguém tem que perder a vida por
uma causa”.
Em uma noite
quente de novembro em 1983, Marçal ouviu uma batida na porta da sua
cabana. Uma voz familiar pedia remédio para um pai doente. Mas, quando
abriu a porta, dois homens armados saíram das sombras e atiraram cinco
vezes.
Um dos tiros entrou pela sua boca. Marçal morreu no local.
Durante
as investigações do caso, as balas no seu corpo foram identificadas
como vindas de um revólver de Romulus Gamarra, empregado de um
fazendeiro vizinho, Líbero Monteiro de Lima. Mas Gamarra fugiu para o
Paraguai. E o fazendeiro chegou a ser acusado como mandante do crime,
mas acabou absolvido em dois processos. “Essa foi a primeira de muitas
mortes indígenas pela terra”, afirmou Rubem Thomaz de Almeida,
antropólogo que trabalha há 40 anos na região e que conhecia a vítima
pessoalmente.


Em 1988, após 20 anos de ditadura militar,
uma onda de otimismo tomou o Brasil. Novos líderes democráticos
prometeram resolver uma série de injustiças sociais que perduravam há
décadas, entre elas, a questão indígena. Pela primeira vez houve um
reconhecimento legal de que os índios brasileiros haviam sido expulsos
de suas terras e que seu estilo de vida não havia sido respeitado.
Como
compensação, o artigo 231 da nova Constituição estabeleceu uma política
de devolução de terras, visivelmente baseada nos argumentos de Marçal
de Souza. A ideia era que o governo federal comprasse as terras de
fazendeiros e as devolvesse aos indígenas, invertendo o processo
ocorrido anos antes. Mas, antes, os pedidos deveriam receber laudos
antropológicos que comprovassem a presença de ancestrais indígenas no
local, através da análise de cemitérios e artefatos.
Segundo
a própria legislação, a demarcação de todas as terras indígenas do
Brasil deveria ter demorado, no máximo, cinco anos para ser concluída.
Mas, na realidade, já se passaram quase 30 anos, e o processo tem sido
lento e, ao que tudo indica, mal sucedido.
Até
hoje, o governo brasileiro demarcou apenas 38% das 1.047 terras
reivindicadas pelas comunidades indígenas, de acordo com o Cimi, sendo
que a maioria das demarcações (98%) está localizada no estado do
Amazonas, uma área vasta e pouco populosa. No resto do Brasil, como no
Mato Grosso do Sul, os pedidos se arrastam por décadas devido à uma
pressão política cada vez mais forte, e à inabilidade do governo em
negociar com os fazendeiros, proprietários das terras.
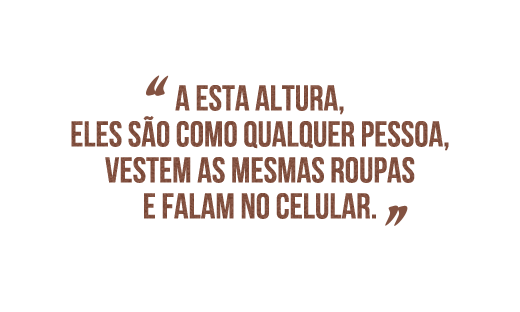
O
presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damalia, 63 anos,
acredita que a legislação foi mal elaborada. “O território do Brasil já
tem 61% de floresta nativa e várias reservas indígenas. Se os índios
ganharem mais terra, o que vai sobrar para a agricultura? Em um país com
o tamanho do Brasil, reduzir a produção agrícola não é uma solução. É
outro problema”, disse, sentado atrás da sua mesa de trabalho.
Segundo
ele, os fazendeiros também não concordam com o preço que o governo tem
oferecido pelas suas propriedades. “É uma violência por si só”, disse.
Damalia argumenta que eles têm um vínculo emocional com as fazendas, já
que trabalham nelas há muitas décadas. E que esse vínculo precisa ser
levado em consideração pelo governo quando faz uma proposta pelas
terras.
Além disso, o
fazendeiro não está convencido de que os indígenas deveriam ser
recompensados por ter uma origem étnica diferente. “A esta altura, eles
são como qualquer pessoa, vestem as mesmas roupas e falam no celular.
Alguns índios trabalham duro nas fazendas e ganham a vida honestamente.
Mas muitos só querem tirar vantagem da legislação. Eles querem terra e
comida de graça sem suar a camiseta. E isso não é justo”, concluiu.
Como
resultado dessa controvérsia, o número de demarcações de terras
indígenas tem diminuído sistematicamente. Segundo o Cimi, de 1995 a
2002, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso demarcou 145 terras
indígenas. Durante seus dois mandatos, entre 2003 a 2010, o presidente
Lula aprovou apenas 79 demarcações. E, desde então, em seu primeiro
mandato, a atual presidente Dilma Rousseff homologou apenas 11 pedaços
de terra para este fim, embora ela ainda tenha quatro anos para alcançar
os colegas.
Sem uma solução
à vista, os indígenas que ainda estão sem terra decidiram exercer
pressão política para que seus direitos sejam reconhecidos. Por isso,
começaram a se instalar, com frequência, dentro de fazendas de
propriedade privada. Fazendeiros, por outro lado, juraram defender o seu
território, custe o que custar, inclusive através da contratação de
equipes de segurança privada.


Aurelino Arce, um policial de 32 anos de idade,
viu na disputa de terra do Mato Grosso do Sul uma oportunidade para
fazer bons negócios. Em 1997, ele criou, em Dourados, uma empresa de
segurança chamada Gaspem. A firma logo ficou conhecida por oferecer
serviços que “resolviam” conflitos indígenas em fazendas localizadas
perto da fronteira com o Paraguai.
A
Gaspem cobrava até 5 mil reais por mês para mandar um grupo de homens
armados patrulhar fazendas dia e noite, a fim de evitar invasões de
tribos locais. E, de acordo com relatórios da polícia, cobrava até 30
mil reais para ter uma tribo completamente removida de dentro de uma
propriedade privada.
Nos
anos 2000, a empresa estava indo tão bem que inaugurou como sede um
prédio de três andares na cidade Dourados. Nesta época, tinha mais de 50
funcionários atendendo várias fazendas na região. E a procura pelos
serviços continuava a crescer. Em 2005, Pio Silva e seus filhos,
proprietários da fazenda Fronteira (agora dividida em fazendas menores),
também viraram seus clientes.
Silva
já estava cansado de lutar nesta guerra. Fazia pelo menos 50 anos que
ele tentava expulsar indígenas da sua fazenda, sem sucesso. Na década de
1970, ele chegou a fazer uma grande retirada com o apoio de autoridades
locais. Mas pelo menos uma família indígena permaneceu na fazenda e,
com a presença do líder indígena Marçal de Souza, conseguiu reconstruir a
aldeia.
Em 2005, Silva
renovou as esperanças quando contratou uma equipe de nove seguranças da
Gaspem para patrulhar a área dia e noite, devidamente vestidos com
uniforme e botinas pretas. O trabalho da equipe era garantir que os
indígenas não montassem novo acampamento no local, já que a aldeia havia
sido retirada novamente, graças à uma ação judicial.
Algumas semanas mais tarde, o indígena Dorvalino Rocha foi baleado e morto pelo líder dos seguranças, Brites.
Após
o assassinato, o Ministério Público começou a investigar as atividades
da Gaspem com mais atenção. Promotores descobriram que haviam diversos
boletins de ocorrência envolvendo a empresa nas delegacias de polícia da
região. Indígenas haviam se queixado que os seguranças atiravam em
direção às aldeias, roubavam as suas ferramentas agrícolas e ateavam
fogo em suas cabanas.


Na madrugada de 18 de novembro de 2011,
cerca de 10 funcionários da Gaspem se aproximaram sorrateiramente de
outra fazenda, chamada Nova Aurora, também localizada perto da fronteira
com o Paraguai. Eles vestiam roupas pretas, usavam capuzes e carregavam
espingardas calibre 12. A equipe havia sido contratada para retirar 68
indígenas que ocupavam o local sob o pretexto de que ali era sua tekoha, denominada Guaiviry.
Ao
contrário do que os seguranças pensavam, os indígenas não estavam
dormindo. Na verdade, estavam escondidos no meio do mato, à espera, com
caras pintadas, cocares coloridos e armados com facas e paus. O grupo
tinha sido avisado sobre o ataque e estava pronto para lutar pelo que
acreditavam ser a sua terra.
Quando
os rivais entraram em confronto, houve tiros, socos e golpes de faca. A
batalha só terminou quando um dos seguranças disparou contra o líder da
tribo, Nízio Gomes, de 55 anos. Assustados, os outros índios fugiram
para dentro do mato. E, quando voltaram, não acharam mais o seu líder.
Mais tarde, uma testemunha afirmou para a polícia que viu os seguranças
levarem o corpo dele embora, já sem vida, na caçamba de uma caminhonete.
Nos
seus depoimentos sobre o crime, os seguranças envolvidos afirmaram que
as suas armas continham apenas balas de borracha e que eram os índios,
na verdade, que portavam revólveres com munição letal. Além disso,
disseram que a suposta vítima, Nízio Gomes, estava vivo no Paraguai e
que, portanto, não havia ocorrido qualquer assassinato.
Mas,
em uma operação internacional e secreta, a Polícia Federal enviou uma
equipe para procurar o líder indígena no Paraguai. E concluiu que Nízio
estava, de fato, morto, apesar do corpo nunca ter sido encontrado.
Restou então apenas um problema: como provar um assassinato sem o
cadáver, especialmente em um país onde 92% dos homicídios permanecem sem
solução (de acordo com um relatório de 2011 da Associação Brasileira de
Criminologia)?
Mas os
investigadores continuaram a procurar por pistas e descobriram que o
dono da Gaspem, Arce, tinha outros problemas, agora de natureza pessoal.

Alguns
meses depois da morte de Nízio Gomes, Arce foi surpreendido em sua casa
por dois homens armados, que anunciaram um assalto. Enquanto eles
procuravam por dinheiro, o empresário reagiu e foi baleado três vezes:
na mão, na perna e no peito. O seu corpo foi colocado no porta-malas de
um carro e jogado na beira de uma estrada. Mas ele sobreviveu.
Após
o crime, investigadores descobriram que Arce tinha uma amante há quatro
anos. Mas a moça engravidou de outro namorado, e a dupla resolveu
conspirar para roubar o dinheiro de Arce. O namorado da amante e um
amigo realizaram o assalto, enquanto que a amante fingiu não saber nada
durante o roubo.
O trio
acabou preso sob a acusação de tentativa de homicídio. E, de dentro da
prisão, a amante, já sem amor para dar, não hesitou em contar para a
polícia tudo o que sabia sobre a Gaspem e a morte de Nízio Gomes. Ela
confirmou que um dos seguranças tinha matado o indígena, e que seu
cadáver tinha sido descartado em local desconhecido. Ela também ajudou a
identificar os fazendeiros que pagaram à Gaspem para emboscar a tribo
Guaiviry naquele dia.
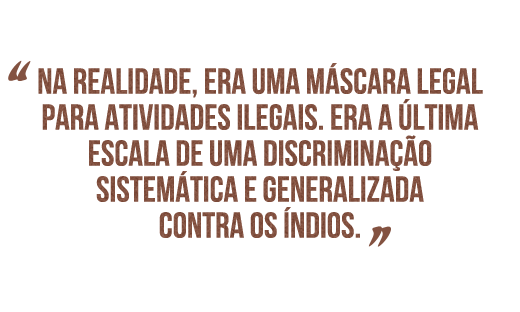
Como
a contratação de um serviço para retirada violenta de indígenas é
ilegal, ao todo, 19 pessoas foram acusadas pelo envolvimento no
assassinato Nízio Gomes, incluindo fazendeiros locais, advogados,
políticos e associações rurais. “Pela primeira vez, a investigação foi
capaz de provar uma conexão entre os proprietários de terras e atuação
violenta da Gaspem contra os índios”, afirmou Ricardo Pael Ardenghi,
procurador da República de Ponta Porã que trabalhou no caso.
E,
após o envolvimento em dois homicídios, a Gaspem finalmente recebeu uma
ordem judicial para fechar as portas em 2014. Um tribunal federal
concluiu que a empresa tinha um padrão de violência contra os povos
indígenas. Como punição, o proprietário da Gaspem, Arce, foi condenado a
pagar uma multa de 480 mil reais.
“Houve
vários indícios de que a atividade da Gaspem não era garantir a
segurança, mas prestar determinados serviços, como pistolagem, a
contratação de jagunços, assassinatos e atos de violência que escambam
para ódio ético”, afirmou o procurador da República Marco Antônio
Delfino de Almeida, que atua em Dourados. “Na realidade, era uma máscara
legal para atividades ilegais. Era a última escala de uma discriminação
sistemática e generalizada contra os índios”.
Os
processos judiciais relativos aos assassinatos dos indígenas Dorvalino
Rocha e Nízio Gomes, no entanto, ainda estão em curso. E, no Brasil,
país em que a justiça é extremamente lenta, não há previsão para
vereditos definitivos.


Quando visitei a tribo Nhanderu Marangatu,
onde Dorvalino Rocha foi baleado e morto, fui apresentada para a sua
filha, Lisandra Rocha, de 22 anos. Ela estava brincando com as suas
crianças, idades um e quatro, na sala comunitária típica das casas
indígenas — uma área sem paredes, protegida apenas por um telhado de
palha. O seu pai morreu há quase 10 anos, mas ela ainda mora no mesmo
local, dentro da fazenda Fronteira.
Lisandra
só fala guarani, a língua oficial da sua tribo, embora entenda algumas
palavras em português. Com dificuldades para se comunicar comigo, ela
resolveu me mostrar o quanto o assassinato de seu pai ainda é relevante
para a comunidade. Me levou, junto com seus filhos, para o local onde
ele está enterrado — curiosamente bem no meio da plantação de
cana-de-açúcar, com folhagens que chegam a ultrapassar dois metros.
O
processo de demarcação da terra indígena na fazenda Fronteira ainda não
foi definido. A tribo mora no local, mas tem acesso a apenas 120 dos 9
mil hectares que reivindicam como sua tekoha.
O pedido de demarcação chegou a ser homologado pelo presidente Lula em
2005, o mesmo ano em que Dorvalino Rocha foi morto. Mas foi
posteriormente suspenso após uma chuva de ações judiciais por parte de
fazendeiros.
De acordo com o
diretor regional do Cimi, Flávio Vicente Machado, o processo andou para
trás porque os fazendeiros “são muito poderosos”. E, segundo ele, pode
nunca ser retomado, caso a PEC 215 seja aprovada no Congresso
Nacional — uma legislação que dá aos deputados federais (ao invés do
Executivo) o poder de decidir sobre terras indígenas. “Os fazendeiros
também têm influência sobre o Congresso e, portanto, se esta legislação
for aprovada, as demarcações nunca vão sair do papel”, disse.
Em
janeiro de 2014 houve esperança de uma resolução quando o Judiciário
brasileiro ordenou que o governo federal pagasse aos fazendeiros uma
espécie de aluguel pelas terras que estão sendo ocupadas por indígenas. A
ideia resolveria um dos pontos de tensão deste conflito, o dinheiro,
enquanto puniria o Executivo por não fazer o seu trabalho. Mas o governo
federal rapidamente anunciou que vai recorrer da decisão porque não tem
a menor intenção de abrir o bolso.
Nesse
meio tempo, Lisandra Rocha não pretende deixar a fazenda Fronteira. E
nem o resto da sua tribo, que já tem 1600 integrantes — número que
dobrou em quase dez anos. O grupo construiu dezenas de cabanas
tradicionais sobre o terreno, algumas delas com eletricidade. Eles
também têm algumas construções de alvenaria, como uma escola infantil e
um posto de saúde.

“Nós
nos sentimos muito mais confortáveis desde que os homens da Gaspem
saíram daqui”, disse Bernardino Sarate, integrante da tribo. “Não nos
sentimos mais em conflito, ainda que tenha um pouco de tensão com os
proprietários, porque a estrada de acesso à sede da fazenda passa bem no
meio da nossa tribo. Mas nós não vamos nos sentir intimidados”, disse.
Para
o antropólogo Rubem Thomaz de Almeida, a determinação dos índios de não
recuar tem a ver com a sua cultura. “Eles têm um entendimento diferente
sobre a terra. A gente têm uma sensação de propriedade que envolve o
pagamento de um terreno e a assinatura de documentos. Mas os indígenas
acreditam que eles pertencem a uma tekoha, e que devem viver e morrer ali. É muito difícil demovê-los dessa ideia”, disse.
A
tribo Guaiviry, onde Nízio Gomes foi emboscado em 2011, também resolveu
continuar a ocupação ilegal, apesar dos riscos. Para o grupo, o
fechamento da Gaspem não trouxe paz, já que os proprietários da fazenda
contrataram outros funcionários para monitorar a tribo, que cresceu de
70 para 300 pessoas.
Lúcio
Damalia, presidente do Sindicato Rural de Dourados, defende a decisão
dos fazendeiros de manter seguranças na fazenda. Ele cita um episódio de
2013, no qual um fazendeiro foi torturado — e morto — por indígenas da
tribo Panambi, no Mato Grosso do Sul. O episódio ficou famoso devido a
um vídeo que se tornou viral, no qual Arnaldo Alves Ferreira, 68 anos,
luta para respirar depois de ter tido seu corpo perfurado várias vezes
com facas e flechas.
De
acordo com relatos da polícia, Ferreira travava uma longa disputa com os
índios sobre uma cerca que separava a sua propriedade da tribo. Um dia,
ele entrou armado na aldeia para discutir, e alguns índios atacaram.
Seis indígenas foram presos por homicídio, embora o processo judicial
continue em andamento. “Nós não queremos mais mortes, mas temos o
direito de proteger a nossa terra e a nós mesmos”, disse Damalia.
Mas,
na tribo Guaiviry, os seguranças geram desconfiança e medo. Os
indígenas estão confinados em um espaço pequeno, uma parcela dos 40 mil
hectares que pedem como sua tekoha.
O terreno inclui um pequeno trecho de floresta e um rio, mas a água é
poluída com agrotóxicos. Lá, a situação é bem mais precária. Eles não
têm eletricidade e nem postos de saúde — dependem da visita de agentes
para assistência médica .
O
líder do grupo é Givito Gomes, 33 anos, filho do Nízio Gomes. Ele
assumiu a liderança tribo após a morte do pai. Givito falou sobre a sua
saga dentro de um galpão grande de madeira coberto com palhas e sem
chão, que fica bem na entrada da aldeia. O espaço é usado tanto como
escola para as crianças indígenas quanto como casa de oração. As
residências, bem menores, ficam no interior do mato.
“Nós
ainda nos sentimos ameaçados por homens de segurança. Volta e meia eles
dão tiros na nossa direção e fazem ameaças verbais”, disse o líder,
entre goles de tererê, o popular chá local. “E, para piorar, eles
colocaram uma cerca em torno de nossa tribo, então não podemos ir para
outras partes da fazenda para caçar tatu ou cateto, uma parte tão
importante da nossa cultura”, disse.
O
processo de demarcação da terra ainda está em fase de estudo. E pode
levar até 20 anos para ser concluído, caso siga o padrão. “Mas nós não
vamos sair daqui. Não temos medo de morrer “, disse o professor da
tribo, Daniel Lemes Vasquez, 38 anos. Em seguida ele me convidou para
conhecer o interior da aldeia e o local onde Nízio Gomes foi morto.
Desviamos de varais de roupas e galinhas assustadas, em meio a um grupo
de crianças curiosas.

“Sabemos
que um de nós pode ser morto a qualquer momento. Eles escondem o corpo e
ninguém vê. Já fizeram isso antes”, disse, entrando mata adentro. De
repente, eu não consegui mais me mexer. Meus pés pareciam presos. Olhei
para baixo. Eles estavam afundando naquela terra vermelha, fértil e
pegajosa.

Fonte: Medium

Nenhum comentário:
Postar um comentário