PICICA: "Jornalista britânico que cobriu levantes pós-2011 em todo o mundo
aposta: sistema não suportará sociedade conectada em rede que ajudou a
criar"
Da crise emergirá o pós-capitalismo?

Jornalista britânico que cobriu levantes pós-2011 em todo o mundo aposta: sistema não suportará sociedade conectada em rede que ajudou a criar
Entrevista a Jonathan Derbyshire, em Prospect | Tradução: Gabriela Leite e Inês Castilho | Imagem: Banksy
– MAIS: Os textos de Paul Mason já publicados por Outras Palavras estão aqui –
Ao cobrir, para a TV britânica, a fase mais recente da crise na Grécia, o jornalista Paul Mason alcançou quase-onipresença em seu país: Mason falando com Alexis Tsipras e outros membros do Syriza; Mason em mangas de camisa diante da câmera, diante do banco central da Grécia; Mason desviando de bombas em outro confronto entre anarquistas e a polícia — isso forma parte da iconografia da crise grega para muitos britânicos.
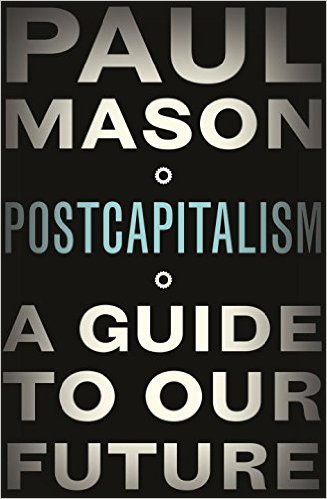
“Pós-Capitalismo: Um Guia para Nosso Futuro”, de Paul Mason, foi publicado por Allen Lane
Agora, enquanto a Grécia e o resto da Europa recuperam seu fôlego, Mason retornou para a Inglaterra para lançar seu novo livro: “Post-Capitalism: a guide to our future” [“Pós-capitalismo: um guia para nosso futuro”]. Não é um trabalho de reportagem, mas uma ampla análise histórica e econômica. Inspirada pela análise de Marx sore relações sociais capitalistas, ela vai, no entanto, além disso — de uma maneira que, reconhece o autor, talvez não agrade alguns de seus amigos na extrema esquerda. O livro é uma análise do “neoliberalismo” — o capitalismo altamente financeirizado que dominou a maior parte do mundo desenvolvido nos últimos 30 anos — e, ao mesmo tempo, uma tentativa de imaginar o que poderia substituí-lo.
“Pós-Capitalismo: Um Guia para Nosso Futuro”, de Paul Mason, foi publicado por Allen Lane.
O capitalismo, escreve Mason, é um sistema altamente adaptativo: “Nos grandes momentos de encruzilhada, ele se transforma e muda, em resposta ao perigo”. Seu instinto mais básico de sobrevivência, ele argumenta, “é impulsionar mudanças tecnológicas”. Mas o autor acredita que as tecnologias de informação que o capitalismo desenvolveu nos últimos vinte anos ou mais não são, apesar das aparências, compatíveis com o capitalismo — não em sua forma presente, e talvez nem em qualquer outra forma. “Quando o capitalismo não puder mais se adaptar à mudança tecnológica, o pós-capitalismo irá se tornar necessário”.
Mason não está sozinho ao acreditar que a humanidade está à beira de uma profunda revolução tecnológica, é claro. Ouve-se isso de outras vozes: que falam, por exemplo, sobre a “Segunda Era da Máquina” e a promessa (assim como a ameaça) de máquinas inteligentes e da “internet das coisas”. O que torna singular a análise de Mason é, no entanto, a maneira pela qual ele funde um balanço das mutações tecnológicas do que costumava ser chamado de “capitalismo tardio” com uma tentativa de identificar o que Engels chamou, no final do século XIX, de a “parteira da sociedade”, a classe capaz de liderar a transformação social. Segundo o livro, não será a velha classe trabalhadora, como Marx e Engels pensaram, mas o que Mason chama de “rede”. Ao colocar em contato permanente milhões de pessoas, Mason escreve, “o capitalismo da informação criou um novo agente de mudança na história: o ser humano bem formado e conectado”.
Encontrei-me com Mason em Londres e comecei a entrevista pedindo a ele:

Paul
Mason: para ele, “indivíduos em rede” são um novo sujeito histórico,
que substituíram a velha classe trabalhadora do marxismo, e se
converteram no que Engels chamava de “parteiros da história”
O neoliberalismo é tanto uma ideologia quanto um modelo econômico. O capitalismo precisa ser compreendido em seu conjunto em cada fase de sua existência. Vivemos o que podemos chamar de capitalismo neoliberal. Este sistema que funciona com um núcleo que opera de acordo com valores neoliberais e uma periferia que não opera. Argumento que o neoliberalismo, como sistema funcional, está em crise porque sua mola central — o amplo consumo financeirizado, combinado com baixo crescimento dos salários — é uma máquina para produzir bolhas e seu estouro. No livro, sustento que uma eventual saída para o sistema (rumar para um info-capitalismo bem sucedido) pode ser viável em certas circunstâncias, mas esta transição é improvável.
Lado a lado com o que você identifica como as características negativas do neoliberalismo (financeirização excessiva e desestabilizadora), também há a revolução tecnológica.
O neoliberalismo foi a forma econômica na qual ocorreram os avanços mais dramáticos da técnica humana sobre a natureza. Em segundo lugar, foi o período no qual países como China e Índia desenvolveram-se de modo surpreendente, um fenômeno que ainda precisa ser compreendido em sua totalidade. Argumento, porém, que esta forma econômica não é mais capaz de conter os níveis do dinamismo tecnológico que conseguiu liberar. Não acredito que o próprio neoliberalismo, eu seus próprios valores neoliberais, seja o condutor da mudança tecnológica. A economista Mariana Mazzicato prova esse ponto: não são apenas o Vale do Silício, o empreendedorismo e o dinheiro dos fundos de hedge que produzem o iPhone — é a Nasa, são as grandes universidades como Stamford.
O que estamos vendo hoje é que a rapidez da inovação não está sendo combinada com implementação de políticas ou evolução de modelos de negócios. Isso impõe uma questão: até que ponto o poder de transformação destas novas tecnologias resultará numa terceira revolução industrial? Eu não vejo isso acontecer sob paradigma neoliberal.
Mas, como você mesmo aponta, a nova tecnologia também foi possibilitadora do neoliberalismo, por ter aprimorado a capacidade de explorar o que é chamado algumas vezes de “capital humano”.
A era Keynesiana produziu a última geração de indivíduos hierarquizados, coletivizados. Eu fui produzido por ela e sei que este mundo acabou. Uma das virtudes de se ter 55 anos é ter visto o novo mundo nascer. Hoje, como Foucault afirma, somos empreendedores do self. A internet permitiu que as massas fossem parte do laboratório social do self. Ela nos permite fazê-lo de uma maneira que nem começamos a entender. Ela criou um novo sujeito humano.
A divergência entre eu e os apoiadores do neoliberalismo é em torno de uma questão: o sujeito humano vai transcender o sistema atual, romper com ele e reformar a sociedade humana? Todas as visões de transformação social têm, a partir de agora, de enxergar o que eu chamo de “indivíduo em rede”. Acredito que as revoltas que narrei em meu livro anterior, Why It’s Kicking Off Everywhere (“Por que está começando em todo lugar”, em tradução livre), são revoltas destas pessoas. Se elas são um novo sujeito histórico, que substitui a velha classe trabalhadora do marxismo, essa é uma grande coisa. É uma grande novidade que devemos buscar compreender.
Você lamenta o mundo que perdemos? O mundo keynesiano de coletividades e solidariedades? Poucas partes de seu livro têm tom de elegia. A nota dominante é mais de excitação com as possibilidades econômicas e políticas que as novas tecnologias e novos modos de subjetividade humana oferecem.
Eu lamento, sim. Escrevi em meu primeiro livro, Live Working or Die Fighting (Viva trabalhando ou morra lutando”, em tradução livre), que o que estamos lamentando, e o que ficou para trás, foi uma anomalia na história do movimento dos trabalhadores. Foi um movimento de trabalhadores socialmente estável, que construiu um caminho de coexistência pacífica com o capital. O que fiz foi cavar na história e descobrir que a indisciplinada história do trabalho foi a de pessoas que foram, elas mesmas e de sua própria maneira, empreendedoras de si mesmas. E tiveram um nível de quase total oposição ao mundo que viveram, coisa que a geração do meu pai, a da era keynesiana, não teve.
De que tradições você está falando, especificamente?
Anarquismo na comuna de Paris. Anarco-sindicalismo nos EUA — os Wobblies. O que o comunismo acrescentou a essas histórias foi a coletividade. Mas se você esquecer as histórias oficiais marxistas sobre a Comuna ou os Wobblies, descobrirá que é uma história de indivíduos rebeldes. Quando comecei a mergulhar nessa história, percebi que a era Keynesiana, apesar do nosso luto, foi uma anomalia.
Também foi uma anomalia na história do capitalismo, não? Não é essa uma das mensagens do livro de Thomas Pikkety, O Capital no Século XXI?
É uma anomalia na história do capitalismo. Também é uma anomalia da história da classe trabalhadora.
Vamos nos voltar ao aspecto econômico de sua argumentação no livro. Sua afirmação é que o capitalismo não consegue “capturar o ‘valor’ gerado pela nova tecnologia.” Você pode desenvolver isso um pouco?
Assim que soubemos que estávamos em uma economia da informação, ficou óbvio que a categoria das coisas chamadas pelos economistas de “externalidades” seriam importantes. O teorista do capital cognitivo, Yann Moulier-Boutang, coloca desta maneira (e eu concordo): toda a questão do capitalismo do século XXI é saber quem captura as externalidades. Devem ser as empresas, que vão ter posse delas e utilizá-las, como faz o Google? A externalidade positiva para o Google é que ele pode ver o que estamos buscando, mas nós não conseguimos ver o que nós mesmo estamos. Então ele pode, agora, construir um modelo de negócio monopolizado, com base nos segredos revelados por sua mineração de dados.
Você quer dizer que, sob os atuais arranjos, o capitalismo só pode capturar o valor gerado pelas novas tecnologias por meio do monopólio? Google, Apple e outros estão ganhando muito dinheiro com isso.
Eles estão ganhando dinheiro. Criaram um monopólio da informação. E, especialmente no que diz respeito aos bens de informação, têm conseguido suprimir o mecanismo de formação de preços. Ele iria, em condições naturais, reduzir o preço da informação que estão vendendo a zero. Eu digo no livro que a declaração da missão da Apple deveria ser, na verdade: “Existimos para prevenir a abundância de música!” Ou, do Google: “Existimos para prevenir a abundância do autoconhecimento das pessoas sobre o que elas fazem na internet”.
Existem dois problemas com isso. Primeiro, é lógico sugerir que nenhum desse monopólios pode sobreviver. Certamente, seu valor de mercado não reflete sua capacidade para continuar monopolizando o que fazem. Segundo: portanto, você não pode ter a completa utilização da informação. A próxima questão é: Existe um meio termo? Haverá algum espaço, que possamos explorar, entre o monopólio e a liberdade? Acredito realmente que sim. Não estou dizendo que tudo deve ser de graça. Estou dizendo que deve haver múltiplos modelos de negócio entre o monopólio e a liberdade.
Você não está dizendo, então, que os mercados vão desaparecer em um futuro pós-capitalista? Afinal, mercados e capitalismo não são a mesma coisa. Mercados são apenas mecanismos para alocar recursos.
É natural — e está acontecendo — que a natureza social da informação leve a formas de atividade de não-mercado. A Wikipédia é uma forma de atividade não mercantil — é um buraco de 3 milhões de dólares no mundo da propaganda.
Você escreve, em certo ponto, que os membros “mais perspicazes” da elite global já são lúcidos a ponto de abordar algumas das questões com as quais você lida no livro — por exemplo, a desigualdade, seu impacto sobre o crescimento, a “estagnação secular” e o papel da negociação coletiva na garantia de salários maiores. O antigo secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, escreveu vastamente sobre todos estes três problemas, oferecendo diagnósticos não tão diferentes dos seus.
Há pessoas na elite global que se permitiram entender o que estamos passando. Uma das coisas que compreendem é que a desigualdade vai ser desfuncional. Não apenas não querem ser linchados em suas camas, mas também entendem que o dinamismo das economias capitalistas só será retomado se houver um aumento dos salários. Também compreenderam a chamada questão do limite de juro zero — a ideia de que, em uma economia onde as taxas de juros reais estão constantemente zeradas, será constantemente necessário adotar políticas monetárias não-ortodoxas. Políticas monetária não-ortodoxas são arenosas. Qualquer um que entendeu a crítica de Keynes nos anos 1920 e começo dos 1930 vai entender o problema da “viscosidade”. Nos anos trinta, os salários eram pegajosos — eles não iriam cair o suficiente. Agora, é a política monetária que é pegajosa. O problema é: de onde o novo dinamismo da economia virá? Larry Summers entende isso. E pessoas nos mercados de títulos também.
O passo final é que eles olham aos choques exógenos e isso os aterroriza. Isso me aterroriza também. As pessoas no poder, nos ministérios da Fazenda, não vão se autorizar a quantificar a gravidade dos choques que estão a caminho. Se 60% dos títulos emitidos pelos Tesouros nacionais tornarem-se insolventes devido aos custos relacionados com o envelhecimento das populações, algo que as agências de risco consideram provável; se a imigração acontecer na escala que se espera; se tivermos nove bilhões de pessoas clamando para entrar no mundo desenvolvido…
Se o neoliberalismo fosse um sistema funcional, como era nos idos de 2001, e não tivesse deixado esta condição, você provavelmente poderia dizer: “Droga, as coisas vão ficar realmente difíceis, mas provavelmente será possível resolver.” Mas esse capitalismo eclerosado, estagnado e fibrilado sob o qual vivemos desde 2008, não tem chance alguma de sobreviver às tormentas. E mesmo que eu esteja errado sobre a transição que vejo e desejo, seus defensores teriam de aparecer e dizer o que um info-capitalismo dinâmico, o que uma terceira revolução industrial poderia ser.
Mas me parece que Summers ou alguém como o economista Robert Gordon teriam que aceitar a parte de diagnóstico de sua análise…
Certo. Mas a razão pela qual não atravessei o caminho até o território do Robert Gordon é que lá está a produtividade potencial. Sua visão da produtividade potencial inerente à tecnologia da informação transbordando para o mundo real … Acho que é maior do que ele aceita ser.
Por que você pensa que ele subestima isso?
É porque pessoas como Gordon não estão preparadas para entrar nesse mundo inferior, entre valor de uso e valor de troca, que as externalidades representam. Não acho que lendo meu livro a maioria das pessoas aceitarão que a transição, potencialmente, se dá em direção ao mundo não-mercantil, centralizado na informação, de baixa intensidade de trabalho, pós-capitalista. Mas se pensam que estamos indo em direção a uma forma de info-capitalismo com uma terceira revolução industrial, eles precisam contar para nós qual é a síntese de alto-valor. Que cara terá essa era eduardiana da terceira revolução industrial?
Haverá sinais desse futuro na chamada economia do compartilhamento? Em empreendimentos como Airbnb e Uber?
Meu palpite é que eles são o AltaVista da economia de partilha. O teórico social francês André Gorz explorou isso. Disse que é perfeitamente possível imaginar o capitalismo colonizando as relações interpessoais. O Uber é isso – a questão não são os motoristas de taxi, mas as pessoas darem carona umas às outras. Gorz prevê que nos tornaríamos provedores mútuos de microsserviços. Mas disse: “Essa não pode ser uma economia de alto-valor”. Esse é o problema. Você não pode construir um negócio garimpando a reserva da capacidade automobilística de todos, sua capacidade para fazer massagem Reiki, a meia hora sobressalente de cada eletricista. Você pode fazê-lo, e a economia da partilha é a maneira perfeita para fazê-lo, mas isso simplesmente não resulta na era eduardiana, na Belle Epoque. A Belle Epoque será o sequenciamento de genes e a possibilidade de gastar metade do dia jogando squash.
A maioria dos marxistas detestará esta hipótese. Significa dizer, contra Marx, que a humanidade se liberta por si própria, que as pessoas podem descobrir, dentro do capitalismo, recursos mentais para imaginar um novo futuro e ir direto a ele de um modo que, de 1844 em diante, Marx pensou ser impossível.
Você toma emprestada a ideia de “ciclo longo” do economista soviético Nikolai Kondratieff. Ele argumentava que a história do capitalismo pode ser entendida como uma sucessão de ciclos, cada um deles com uma ascensão turbinada por inovação tecnológica com duração de aproximadamente 25 anos, seguida de uma queda com aproximadamente a mesma duração e que geralmente acaba numa depressão. Esses longos ciclos são muito mais longos que os ciclos de negócio identificados com a economia convencional. Por que você considera proveitosa a abordagem de Kondratieff?
Penso que necessitamos de teorias maiores que os ciclos de negócio e menores que a destruição completa do sistema. Quando você aplica a teoria de Kondratieff ao período pós 1945, percebe o sistema funcionando perfeitamente até 1973. E então ele desmorona. O neoliberalismo vem junto e resolve o problema destruindo o poder de barganha do trabalho. Olhar para as coisas através das lentes de Kondratieff força você a colocar a questão: será o neoliberalismo a forma bem sucedida do novo capitalismo ou o fim da linha que prolongou o ciclo por tempo demais? Escolho a segunda alternativa.
Em que parte do ciclo nos encontramos agora?
Estamos bem no fim de um quarto longo ciclo muito prolongado. Estamos na fase de depressão do quarto longo ciclo, que coincidiu com a ascensão tecnológica do quinto. De modo que acredito que os longos ciclos podem sobrepor-se. Penso que estamos numa posição incomum, do ponto de vista histórico. Claramente, a revolução da informação está ai e as bases de um tipo de capitalismo completamente novo podem estar emergindo. O que aconteceu é que as velhas relações sociais da metade passada da onda anterior não irão adiante. Não há Keynes, apenas o reminiscente do velho. Se você olha para Mark Zuckerberg, do Facebook, ou Jeff Bezos, da Amazon, verá que são pessoas agnósticas sobre o futuro de todo o sistema. Eles veem apenas o futuro de sua própria corporação.
Meu uso de Kondratieff é para tentar responder a pergunta sobre onde estamos. As outras periodicidades – o ciclo de negócio de dez anos e a época, de 500 anos – não são suficientes. Não há uma cadeira de Estudos Pós Capitalistas na Universidade de Wolverhampton! Eles estão na infância.
Você mencionou André Gorz. No livro, você cita um trecho em que ele diz, em 1980, que a classe trabalhadora está morta. Se estava certo, quem será o agente de mudança social?
O fato terrível e desafiante pode ser que, se o capitalismo tem um início, um meio e um fim, então o movimento dos trabalhadores também. Em outras palavras, o declínio da luta trabalhista organizada, com base no trabalho manual, especializado, branco e masculino, parece-me partedo que está acontecendo ao capitalismo. Sou alguém que veio deste background e viveu mergulhado nele. Mas argumento que o sujeito histórico que trará o pós-capitalismo já existe e é o indivíduo em rede. A noção de Antonio Negri de “fábrica social” era arrogante nos anos 1970s, porque era muito cedo. Mas me parece ser justa agora – todos nós participamos na criação de marcas, no estabelecimento de escolhas de consumo, estamos alimentando o capitalismo financeiro por meio do nosso uso das finanças. Por isso, consigo comprar a ideia de que existe uma fábrica social. Se quiser desligá-la, deve fazer como William Benbow sugeriu na década de 1820, parando a “grande festa”. Agora, duvido que isso vá acontecer. Portanto, a maneira menos utópica de fazer isso é lutando pelos interesses dos indivíduos em rede, para que eles não tenham suas informações roubadas, arbitrariamente acessadas pelo Estado, para seus estilos de vida poderem florescer, para que eles tenham escolhas.
São tantos os levantes que cobri – Turquia e Brasil são bons exemplos. São assalariados em rede que não aguentam os níveis de corrupção e intromissão em suas vidas – o islamismo na Turquia, corrupção no Brasil. Que tipo de revolução é essa? Há uma discussão entre aqueles que se envolveram com meu livro: se este é o agente, é “por si” ou “em si”, como diria Marx. Seriam essas pessoas capazes de adquirir um nível espontâneo de entendimento da situação que os levasse a tomar algumas das medidas políticas insinuadas neste livro como um caminho a seguir? Neste momento eles ainda não chegaram lá, claramente. O que são é muito hábeis em construir seu espaço pessoal. Podemos zombar disso, por ser em pequena escala. Mas, ao construir um espaço que é simultaneamente econômico e pessoal, penso que esta geração está fazendo algo muito significativo.
Será que os impregno com a mesma inevitabilidade e teleologia com que o marxismo impregnou a classe trabalhadora? Não. No livro, gasto muito tempo desmontando a compreensão marxista de classe trabalhadora. Sempre senti, como alguém que tem essa bagagem, que o kit de ferramentas que o marxismo tinha para descrever a classe trabalhadora era dos menos convincentes – sobretudo para a própria classe trabalhadora.
A certa altura, você altura escreve que o marxismo é uma grande “teoria da história”, porm se equivoca como “teoria da crise”. O que quer dizer com isso?
Quero dizer que é uma grande teoria para analisar a sociedade de classes. Por exemplo, durante a revolução do Egito em 2011, tendo lido O 18 Brumário de Luis Bonaparte, de Marx, eu poderia dizer aos radicais egípcios que, quando o caos se instalasse, as mesmas pessoas que estavam ao lado deles dariam as boas vindas à ditadura. É provável que o capitalismo evocasse algo novo, capaz de impor ordem. O que impôs desordem foi a Irmandade Muçulmana. Ver as mesmas pessoas que tinham apoiado a revolução chamando o general Sisi para derrubar a Irmandade faz sentido, se você leu O 18 Brumário.
Eu perguntei a Alexis Tsipras antes de o Syriza ser eleito: “Quais seriam as ameaças para um governo de esquerda, se você conquistasse o poder?” Contei a ele: “Você se lembra que [Salvador] Allende nomeou [Augusto] Pinochet [no Chile]? Allende nomeou o general para deter um golpe militar. Nós rimos. A questão, você poderia argumentar, é que o governo da Grécia está sendo colonizado pelas mesmas forças que ele imaginou estar ali para combater. Neste momento, a elite empresarial está pensando: “Apenas Tsipras pode governar a Grécia.” Eles prefeririam que ele governasse a Grécia sem a extrema esquerda do próprio partido. Sempre encontro capitalistas gregos que me dizem: “Se Tsipras nos escutasse, a Grécia seria um grande país.”
O marxismo força você a fazer perguntas que não são feitas pelos jornalistas mainstream. Neste momento, a questão mais importante para os gregos é: o que está acontecendo com as massas? As massas não estão derrotadas. Elas não acreditam que Tsipras é Luis Bonaparte. Muitos fazem objeção ao que ele fez, mas não acreditam que ele seja uma força da reação. Eles acreditam no que está dizendo – que está fazendo algo contra a própria vontade e que irá compensar isso com um ataque à oligarquia. Esperam que esse ataque à oligarquia aconteça. Minha observação é de que houve uma grande radicalização, na Grécia. Quando o verão terminar, veremos uma renovação real tanto das lutas de base como do radicalismo do governo.
O foco naquilo que as pessoas estão dizendo nos pubs é algo que interessa muito a dois tipos de pessoas: às forças da polícia secreta e aos marxistas! Eu gasto o maior tempo possível ouvindo as pessoas.
Qual é o desafio jornalístico para ventilar esse tipo de questão? Trabalhar para uma rede de TV como o Channel Four impõe certamente certas restrições ao modo como você opera.
Um bom jornalista de assuntos sociais, que é o que penso ser, irá, na Grécia por exemplo, conversar com primeiros-ministros, ministros de Estado, mas irá também atrás dos estivadores, dos anarquistas. Ainda por cima, você tem somente dois minutos e trinta segundos. Essa é a razão por que gastei os últimos seis meses buscando recursos e realizando um grande documentário que virá a público, espero, no final deste ano, e que conta a história do Syriza desde as bases, a partir das ruas. Queria fazer isso porque no meu trabalho diário nunca poderia contar essa história. É simplesmente impossível.
E sobre a acusação, frequentemente dirigida a você (e feita várias vezes, durante os últimos meses na Grécia) de que, ao operar dessa forma, você excede os limites da propriedade jornalística ou da isenção?
Penso que todos estão errados! A realidade é que o mundo é governado por uma elite dedicada a reforçar, de modo às vezes completamente aberto, a desigualdade e tudo o que a acompanha. Na Grécia, a “austeridade” é uma forma de coerção. Fico feliz de dizer isso porque essa é a minha análise da realidade. Muita gente no Financial Times ou no Wall Street Journal não compartilha dessa minha visão. Mas estou muito feliz, e meus patrões estão permanentemente felizes com o modo como pratico o jornalismo. As pessoas que não gostam devem simplesmente acostumar-se a ele.
Com ideias como as que estão neste livro, a razão de divulgar uma ideia radical é que você não espera que Andy Burnham ou Tim Farron, [dirigentes do Partido Trabalhista britânico] irão telefonar e dizer, “gosto disso, Paul. Vamos incluir na política do partido.” A questão é ser um pouco do contra. Há pensamento único demais. Meu desejo com esse livro é fazer como num workshop de teatro – levar as pessoas a uma experiência fora do corpo, a ficar largadas no chão, na piscina das próprias lágrimas. Então, quando elas voltarem à segurança do grupo, talvez possam fazer alguma coisa mais honesta.
Fonte: OUTRAS PALAVRAS

Nenhum comentário:
Postar um comentário